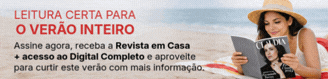Um médico que toca nas feridas da medicina
Autor de um livro que percorre os conflitos entre a ciência e a vida real, Olavo Amaral expõe quão complexo é o exercício de cuidar dos outros

O que a campanha de indicação de exames para prevenir o câncer de próstata, a epidemia de transtornos mentais como o TDAH, a onda da medicina personalizada e o tratamento precoce da covid-19 têm em comum?
Todos esses temas mobilizam discussões sobre os limites entre as evidências científicas e a prática clínica, entre o que abrange o foro íntimo e o coletivo e entre o que se sabe e o que ainda não se confirmou no exercício da medicina.
São esses, inclusive, os motes dos quatro ensaios que compõem Na Saúde e na Doença (clique para comprar), o novo livro do médico e escritor Olavo Amaral, publicado pela Objetiva.
Fazendo o papel de jornalista, o pesquisador da UFRJ investiga, entre assuntos tão díspares, o que está em jogo na construção do conhecimento, das narrativas e do cuidado com o outro — um debate que, muito além da ciência, pode virar briga de torcida.
Com uma prosa didática e provocadora, Amaral apresenta os conflitos nos bastidores das decisões médicas e ressalta que, diante das incertezas na área da saúde, é preciso tomar uma dose de humildade.
Confira a seguir a entrevista exclusiva com Amaral:
VEJA SAÚDE: Seu livro começa com o debate sobre a indicação do exame para rastrear o câncer de próstata. Não acha que, ao colocar em confronto as evidências científicas, que ponderam os benefícios dessa medida, e a vida real nos consultórios, esse não seria um caso clássico do dilema entre saúde individual e coletiva? Se alguém tiver a chance de fazer a testagem e diagnosticar a doença mais cedo, vai se sentir mais seguro, ainda que essa estratégia não possa ser disponibilizada a toda a população…
Olavo Amaral: Sim, mas esse também é um dilema que opõe a saúde individual à própria saúde individual. Existe um argumento legítimo para não fazer o exame por causa dos riscos do tratamento, e o balanço de risco/benefício entre fazê-lo (para diminuir a chance de morrer por câncer de próstata daqui a muitos anos) e não fazê-lo (para evitar uma sequência de procedimentos diagnósticos e terapêuticos que pode acabar resultando em impotência ou incontinência urinária num prazo menor) é tênue e depende dos valores de cada paciente.
Então o cálculo já é complicado mesmo antes de você colocar a questão dos custos e a capacidade do sistema em jogo.
Naturalmente, em um sistema com poucos recursos e sem capacidade de atender todo mundo que seria diagnosticado pelo rastreamento, a balança tende mais para o “não fazer”, porque seria impossível dar conta da demanda gerada.
Não por acaso, o Ministério da Saúde, como a maior parte dos sistemas públicos de saúde no mundo, não recomenda o rastreamento populacional do câncer de próstata. Mas acho injusto atribuir essa posição só à economia de recursos: a evidência de que o exame valha a pena mesmo tirando a parte econômica da conta já é questionável.
E o que mais pesa na decisão de fazer ou não o exame?
Uma coisa que conta nesse contexto, para além da desigualdade financeira, é a desigualdade de informação. Para alguém que esteja plenamente informado dos riscos e benefícios do rastreamento, realizá-lo é menos danoso, porque é possível pegar os resultados de um exame positivo e decidir de forma embasada o que fazer com eles.
Frequentemente, a conduta pode ser não tratar de imediato, particularmente em casos de tumores cujo aspecto sugere um comportamento pouco agressivo. Mas, para quem não tem um conhecimento aprofundado do tema ou a tranquilidade necessária para viver com um diagnóstico de câncer sem querer extirpá-lo, fazer o exame de próstata acaba significando embarcar num trem de procedimentos sequenciais do qual é difícil descer depois.
O livro também oferece uma leitura crítica das campanhas de saúde dos meses coloridos. Depois de Outubro Rosa e Novembro Azul, hoje temos cores para o ano inteiro. Quanto elas contribuem para atender às demandas da saúde pública?
Acho que todas essas campanhas relacionadas a doenças ou condições de saúde que envolvem profissionais que as tratam são sempre uma mistura de boas intenções, frequentemente legítimas, com interesse profissional, já que dão visibilidade tanto para os profissionais que participam das campanhas quanto para o seu filão de mercado.
Some-se isso à percepção positiva que essas campanhas têm frente à opinião pública, e isso cria um estímulo inevitável à proliferação dos “meses coloridos”, que têm pouco ou nada a ver com demandas reais da saúde pública.
Nesse sentido, acho que é sintomático que a invenção desses meses costuma partir do setor privado ou de associações de pacientes ou profissionais, e não do sistema público de saúde — ainda que mesmo ele às vezes se sinta obrigado a participar de alguma forma.
E a mesma narrativa é reproduzida em todos esses movimentos?
Dentro desse universo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul acabaram tendo um destaque maior não só por serem os primeiros, mas por terem uma narrativa simples de problema e solução: “Quer prevenir o câncer? Faça o exame!”
Outras campanhas, voltadas a temas como suicídio, artrite reumatoide ou esclerose múltipla, não conseguem replicá-la. Mas isso deu a elas um caráter quase evangelista de recomendar uma prática simples e aparentemente eficaz, já que os reveses não são óbvios, e acabou engajando pessoas e organizações de uma forma maciça.
E você questiona também os interesses em jogo nessas campanhas, não?
Para além das campanhas, eu diria que esse conflito de interesses permeia quase qualquer conversa sobre saúde dentro do debate público.
Num mundo em que boa parte dos profissionais tem perfil no Instagram para falar daquilo com que trabalham, o debate sobre saúde virou uma disputa por atenção em que inevitavelmente as pessoas acabam puxando a brasa para sua sardinha, e fica difícil separar o que é informação e o que é publicidade, porque essas coisas andam quase que inevitavelmente misturadas.
+Leia também: Como circular nas redes sociais sem afetar a saúde
O que a “epidemia” de TDAH e de outros distúrbios ligados ao comportamento — outro tema abordado no livro — nos revela sobre a medicina e a sociedade hoje?
Acho que ela revela que um diagnóstico psiquiátrico, que era uma condição extremamente carregada de estigma até algumas décadas atrás, se transformou numa alternativa palatável (e por vezes até desejável) de narrativa para as pessoas explicarem seus problemas hoje em dia, pelo menos para diagnósticos de “baixo estigma” como o TDAH.
A explicação passa por diversos pontos. Por um lado, acontece por causa da percepção de que o diagnóstico se tornou mais preciso e cientificamente embasado nas últimas décadas, por mais que isso seja um tanto equivocado — na prática, ele continua sendo apenas um nome que damos para um conjunto de sintomas.
Mas, por outro lado, passa por uma tendência mais geral de assumir identidades baseadas em questões biológicas como uma forma de organizar narrativas pessoais e de se articular na busca por direitos e cuidados.
Nesse sentido, acho que a proliferação do TDAH acaba se juntando à tendência mais geral de uma política identitária que permite às pessoas se associarem em uma “bandeira comum” com as características que as definem — o que pode ter a ver com raça, gênero, orientação sexual ou diagnóstico psiquiátrico.
Nesse contexto, organizações ligadas ao autismo e ao TDAH têm se aproximado do discurso do movimento de pessoas com deficiência a fim de usar o diagnóstico como forma de requerer acomodações especiais, o que já ocorre em diversas legislações.

Passemos para o próximo tópico, discutido em um de seus ensaios: a “medicina personalizada”. Esse conceito, tão evocado por aí atualmente, comporta mais marketing ou ciência?
Eu tenho dificuldade de ver a “medicina personalizada” como um conceito realmente novo, porque uma medicina bem-feita sempre foi ao mesmo tempo “despersonalizada”, no sentido de que tem que se basear em evidências prévias obtidas com outras pessoas, e “personalizada”, no sentido de que essas evidências precisam ser adaptadas ao paciente em questão e às suas próprias peculiaridades e preferências.
Então não consigo ver como os desenvolvimentos atuais da medicina trariam uma mudança de paradigma, porque, por mais dados que tenhamos sobre as pessoas, o processo básico continua sendo o mesmo.
É claro que, com mais dados, é possível personalizar melhor as recomendações, e isso já vem acontecendo em algumas áreas. Como exemplo paradigmático, as decisões de tratamento oncológico hoje são feitas com base em inúmeras informações sobre o perfil molecular do tumor que não estavam disponíveis há duas décadas.
Ainda assim, elas seguem sendo baseadas nos dados de outras pessoas, e não vejo muito como fugir disso. De alguma forma, seremos sempre dependentes daquilo que aprendemos com os que vieram antes de nós.
Mas há caminhos para ampliar a personalização no cuidado?
Outra possibilidade de personalização é aprender sobre quais intervenções funcionam por tentativa e erro no próprio paciente, em casos em que a condição a ser tratada é algo que flutua ao longo do tempo.
Mas isso também não é novo: diabéticos sempre experimentaram dietas diferentes para ver como elas afetavam sua glicemia, e pessoas com enxaqueca sempre tentaram diferentes tratamentos até ver qual deles funciona melhor para as suas próprias crises.
Com dados coletados em tempo real por wearables ou celulares, é possível que consigamos fazer isso de forma mais eficiente para algumas condições, mas, novamente, me parece apenas um refinamento de algo que já se faz há muito tempo.
Um dos textos do livro é centrado na pandemia, sobretudo na contenda em torno do tratamento precoce para covid. A medicina e a ciência saíram fortalecidas dessa crise sanitária e humanitária?
Quando a pandemia começou, achei que a medicina e a humanidade sairiam fortalecidas pela necessidade de ter de reagir de forma coletiva a uma ameaça comum. Infelizmente, hoje acho que não foi o caso. O problema é que, por causa da polarização da informação, as pessoas saíram da pandemia com narrativas muito distintas do que aconteceu.
Um lado acredita que centenas de milhares de pessoas morreram porque tratamentos simples e baratos foram suprimidos pela ganância da indústria farmacêutica. O outro acredita que essas mesmas centenas de milhares de mortes são atribuíveis a um governo que se recusou a impor medidas mais restritivas de circulação.
Um lado diz que os lockdowns deixaram milhões de pessoas com fome e acabaram com a economia. O outro diz que nem houve lockdown, e que o problema foi a falta deles. Isso vale para debates rasos de redes sociais, em que a própria natureza vaga da conversa contribui para a interpretação da informação.
Mas acontece também em debates cientificamente embasados, já que a literatura científica tem muito ruído (devido a artigos de baixa qualidade), além de um tanto de incerteza legítima.
Nessas circunstâncias, até profissionais bem-intencionados podem cometer erros de leitura?
Mesmo que você entenda do assunto e for buscar evidência em artigos científicos, é muito difícil escapar dos seus próprios vieses. Se você estiver propenso a chegar a determinada conclusão por causa do que pensa o grupo em que está imerso, vai acabar chegando a ela através da análise seletiva da evidência.
E, em um ambiente fortemente polarizado, mesmo os melhores cientistas estão sujeitos a isso, já que também são seres humanos imersos no contexto político.
E essa dinâmica afetou a questão do tratamento precoce?
Nos debates sobre o tratamento precoce, todo mundo acabou saindo da pandemia com a convicção de que estava com a razão, o que é péssimo, porque acaba reforçando a polarização de que existe o lado da “ciência” e outro da “anticiência”, uma convicção que é compartilhada pelos dois extremos do debate, com os lados se invertendo em ambos os casos.
É óbvio que existem posições mais próximas da verdade e outras menos, e não quero criar falsas equivalências. Mas, em quase qualquer debate muito polarizado, é provável que ambos os lados tendam a se afastar da postura mais racional pela própria dinâmica de competição que se instala.
Tem solução para isso?
Não sei bem como resolver essa situação, mas acho que colocar a questão como uma disputa entre “ciência” e “anticiência” ou “informação” e “desinformação”, como a mídia e o pessoal da divulgação científica frequentemente fazem, não ajuda muito.
Minha impressão é a de que o primeiro passo para tentar criar um debate público de melhor qualidade é admitir que a realidade frequentemente é complexa, e que a ciência é incerta e nem sempre tem uma resposta de consenso. Isso não significa dizer que qualquer opinião é igualmente válida e deva ser levada em conta.
Mas, no caso da pandemia, acho que é importante reconhecer que algumas posições que foram demonizadas, como questionamentos sobre a origem laboratorial do vírus, os efeitos deletérios do fechamento de escolas ou o risco/benefício de algumas vacinas em populações específicas, eram pelo menos razoáveis e não deveriam ter sido tratadas como terraplanismo — o que teria contribuído para manter mais gente dentro de uma esfera de debate comum.
Infelizmente, acho que o estrago da pandemia na nossa capacidade de conversar sobre ciência já foi feito.
+Leia também: A batalha pela vacinação

E de agora em diante?
Vai haver outros temas científicos ou médicos polêmicos no futuro — aliás, eles já existem no presente —, e acho importante a gente não entrar no debate de forma tão combativa como fizemos durante a covid-19, mantendo um espaço maior para a dúvida em temas complexos, e para o diálogo com quem pensa diferente de nós.
Em alguns momentos do livro, você se posiciona como um médico que já não exerce a medicina no dia a dia. O que esse distanciamento lhe permite diagnosticar hoje?
No fundo, acho que esse é o meu posicionamento durante todo o livro, e me parece que é o que torna a obra interessante. Acho que um olhar de fora sobre determinados campos é extremamente importante, e é uma das razões de ser da existência do jornalismo, que no fundo é a atividade que eu estou exercendo ao escrever o livro.
Ao mesmo tempo, porém, entender de questões científicas complicadas é difícil, e, nesse caso, a minha formação médica, mesmo que distante, ajuda a criar um “olhar de fora embasado”, que acho que faz a diferença.
Não creio que eu possa realizar grandes diagnósticos sobre a medicina como um todo, porque o livro se debruça sobre questões específicas. Mas acho que cabe reiterar o que eu coloco no prefácio: ser um bom médico e praticar a melhor medicina possível é um exercício muito difícil.
Por quê?
Afora a complexidade da ciência médica e a quantidade sobre-humana de evidência que tem que ser considerada, o campo é atravessado por inúmeros interesses econômicos, políticos e afetivos. E, no meio de tudo isso, você tem uma pessoa precisando de ajuda na sua frente, com toda a complexidade que os seres humanos têm.
Conseguir equacionar todas essas coisas da melhor maneira possível — sabendo que você nunca vai conhecer toda a evidência, nem estar completamente isento de conflitos de interesse, nem conhecer completamente o seu paciente — é uma arte muito delicada. Mesmo com as melhores intenções, qualquer um de nós vai acabar errando.
E estar aberto a aprender com esses erros é talvez a parte mais importante de se tornar um médico melhor.
E qual é a mensagem que unifica todas essas discussões que permeiam o livro e esta entrevista?
No fundo, talvez ter escrito um livro tentando tratar de temas polêmicos dentro da medicina com o olhar complexo que eles merecem tenha sido a minha forma de lembrar a todos — inclusive a mim mesmo — quão difícil é tomar posição nesses assuntos.
Médicos e cientistas frequentemente pecam pela soberba e pelo excesso de certezas, e o livro talvez seja um apelo pela manutenção de certa humildade epistêmica. E de uma convivência pacífica com a incerteza, que nos deixe abertos a mudar de ideia, mas não nos paralise quando decisões têm que ser tomadas com a evidência disponível.
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO