A OMS sem os Estados Unidos: o que está em jogo para a saúde global?
Uma reflexão sobre como decisões tomadas pelo governo americano podem reverberar na saúde pública — e tão conectada
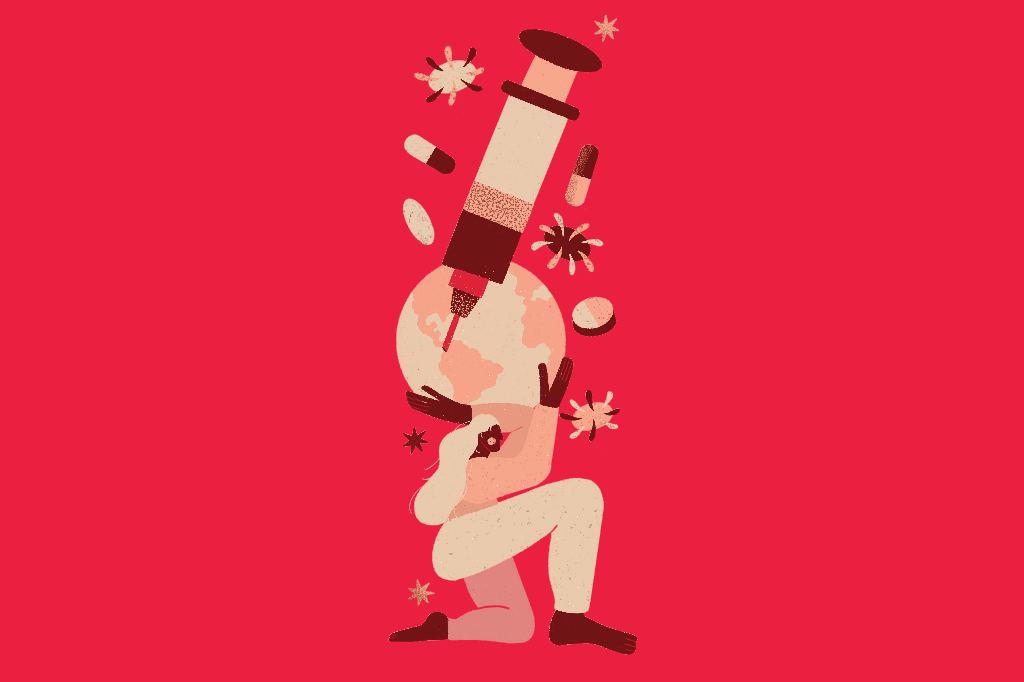
Vivemos a história diariamente. E há momentos em que as mudanças são tão abruptas que conseguimos perceber que o mundo que conhecemos parece estar se desmanchando e se tornando algo completamente diferente.
Desde meados do século 20, a sociedade testemunhou a criação de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
Essas instituições foram estabelecidas com o objetivo de promover a paz, a segurança e a cooperação internacional, buscando evitar a repetição dos horrores do passado.
A ONU, fundada em 1945, emergiu como um fórum para a resolução pacífica de disputas e promoção dos direitos humanos. A OTAN, formatada em 1949, buscava garantir a segurança coletiva dos países-membros diante de ameaças externas.
Já a OMS iniciou suas atividades em 7 de abril de 1948, data celebrada anualmente como o Dia Mundial da Saúde, com a missão de coordenar esforços no combate às doenças e na melhoria das condições sanitárias globais.
Recentemente, participei de um evento em Barcelona, na Espanha, onde pude ouvir as análises de especialistas internacionais como o cientista político americano Ian Bremmer, o professor de direito e ex-ministro português José Manuel Durão Barroso, o historiador britânico Niall Ferguson, entre outros.
Todos são unânimes ao afirmar que as configurações e organizações criadas após a Segunda Guerra Mundial não existirão mais — ao menos em seu formato atual.
Apesar das críticas que possamos ter à arquitetura do mundo que conhecemos, liderado pelos próprios Estados Unidos, é inegável o impacto positivo gerado para a humanidade em aspectos essenciais como paz, saúde, combate à fome e direitos humanos. Sem esse modelo, dificilmente teríamos alcançado tamanho desenvolvimento e cooperação.
Ocorre que, agora, o próprio arquiteto desse sistema parece ter se desgostado de sua obra e deseja refazê-la ou até mesmo destruí-la.
A recente decisão dos EUA de deixar a OMS, sob a alegação de ineficiência e influência política excessiva de outros países, especialmente da China, levanta questões cruciais sobre o futuro da governança da saúde global.
Do ponto de vista financeiro, a OMS perderá seu maior contribuinte, impactando diretamente programas essenciais como o combate a malária, tuberculose e HIV, além da vigilância epidemiológica e da resposta rápida a emergências sanitárias.
Em outros aspectos, corre-se o risco de termos uma organização menos influente e menos capaz de definir e coordenar políticas globais de saúde — o que é crítico diante de possíveis novas pandemias. É um cenário desfavorável para a ciência e para a vida humana — em todos os lugares do planeta.
+ LEIA TAMBÉM: Mortes por sarampo nos EUA reforçam importância da vacina
Causas e consequências
Mas por que os EUA desejam desconstruir esse modelo de organização, que, apesar das críticas, gerou tantos resultados positivos?
Infelizmente, na geopolítica, a moralidade é um tema secundário frente às estratégias políticas e econômicas dos países. A história nos mostra que a vida humana importa mais ou menos dependendo de onde essas pessoas nascem e em qual contexto econômico estão inseridas.
O mundo tornou-se demasiadamente multipolar, e a influência crescente de diferentes países nesses organismos resultou em um desvio da intenção original, que era manter a ingerência sobre eles. Como esse controle já não ocorre mais, a lógica americana parece clara: se não podem controlá-los, não há por que financiá-los.
Em termos práticos, essa mudança pode gerar uma OMS menos ágil e menos financiada para lidar com crises sanitárias globais. No entanto, essa desconstrução promovida pelos EUA — e seguida por nações como a Argentina — pode gerar, além de incerteza, um despertar na União Europeia, que se vê cada vez mais isolada nesse novo mundo multipolar, onde os países europeus perderam protagonismo e já não podem, nem devem, contar com a proteção americana, seja ela militar ou econômica.
Há, ainda, a possibilidade de que a saída dos EUA da OMS gere um efeito inesperado: a busca por uma estrutura de financiamento mais diversificada, reduzindo a dependência de um único país ou região.
A União Europeia tenderá a aumentar sua participação, enquanto novas parcerias com organizações filantrópicas e empresas privadas podem emergir. Isso poderia tornar a OMS menos vulnerável a disputas políticas e mudanças de governo nas grandes potências, garantindo maior autonomia técnica.
Para o mundo, a saída dos EUA da OMS simboliza mais um capítulo da fragmentação da governança global, em um momento em que os desafios sanitários exigem respostas integradas e rápidas.
No longo prazo, o sucesso ou o fracasso da OMS sem os EUA dependerão da capacidade de adaptação da organização e do compromisso de outros países em preencher essa lacuna. O que está em jogo não é apenas o financiamento de uma agência internacional, mas a eficácia da resposta a futuras pandemias e crises sanitárias.
Burocracia, ineficácia, desperdício e má gestão são críticas recorrentes a muitas dessas instituições mundiais, que devem, de fato, ser investigadas e aprimoradas a fim de garantir um melhor impacto na vida das pessoas ao redor do planeta.
Mas uma coisa é certa: a saúde global é interconectada, como nos mostrou a pandemia de covid-19. Goste-se ou não da verdade, o fato é que nenhum país, por mais poderoso que seja, conseguirá enfrentar sozinho os desafios sanitários do século 21.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Da floresta à farmácia: a origem dos medicamentos
Da floresta à farmácia: a origem dos medicamentos


















